Nação, narrativa e memória traumática: para uma interpretação pós-colonial da trajetória afrodiaspórica no romance 'Os Pretos de Pousaflores' de Aida Gomes
O presente trabalho propõe-se a interpretar a narrativa do romance Os Pretos de Pousaflores (2023) de Aida Gomes através de uma perspetiva pós-colonial, examinando questões fundamentais presentes na obra, como o Estado-nação, a narrativa e as memórias traumáticas. Alicerçado nos estudos pós-coloniais, da memória, da narratologia e dos feminismos – particularmente nas teorias de Homi Bhabha (2005), Pierre Nora (1993), Ruth Page (2006), Walter Benjamin (1987) e Paul Ricoeur (2012) – este artigo visa evidenciar os valores estéticos, sociológicos e historiográficos do romance. Pretende-se, assim, contribuir para a visibilidade da literatura afrodiaspórica de língua portuguesa e estimular reflexões mais amplas sobre temas prementes no debate público contemporâneo, centrados no deslocamento, na imigração e na diáspora.
INTRODUÇÃO
Doze anos após a sua publicação em Portugal em 2011, o romance de estreia da escritora de descendência angolana Aida Gomes, Os Pretos de Pousaflores (2023), foi lançado no Brasil com uma narrativa incontornavelmente inquietante. Como Bárbara Cardoso (2024) conclui na recensão sobre o romance, embora a sua primeira publicação não tenha alcançado a devida atenção, “sua republicação em um novo momento e com um público no outro lado do Atlântico permite uma nova possibilidade de apreciação desta obra” (Cardoso, 2024, p. 546). A escrita de Aida Gomes, extensa, volátil, com uma tremenda força de urgência de contar e ser ouvida, não deixa de mostrar a sua vontade de trazer à tona milhares de pedaços de memórias opacas — as dores, traumas, violência, desejos abatidos, ilusões perdidas, entre numerosos outros.
Como uma amálgama mnemónica, ou “um lugar de encontro e desencontro de uma polifonia onde todos contam e todos falam” (Tavares, 2023, p. 10), o romance atravessa, confunde e desassossega em diversos sentidos. Em termos espaciais, Angola e Portugal são dois palcos que se alternam constantemente, enquanto em termos temporais, a narrativa perpassa, de forma transversal, vários momentos históricos que remontam aos anos trinta do século passado, passando pela independência nacional de Angola até o término da guerra civil do país.
Entretanto, existe ainda outra componente importante, nessa viagem não linear da memória e narração, que se refere às diferentes vozes da narrativa e às suas diversas identidades. Trata-se de seis personagens principais: duas meninas mestiças, a Belmira e a Ercília, e um rapaz mestiço, o Justino; a mãe biológica da Ercília e a madrasta de outras crianças, a Deodata; o pai branco português deles, o Silvério; a irmã do Silvério, a Marcolina. Através dessas vozes que representam diferentes grupos sociais e geracionais no contexto pós-colonial, e das memórias individuais que elas acarretam consigo e que se ligam intimamente à experiência de deslocamento, trauma e violência, o que se evidencia é uma vertente mais dinâmica, porém menos visibilizada, da chamada memória do “retorno”, na medida exata em que a designação “retornados”, a sua definição sociopolítica e suas representações culturais na sociedade portuguesa pós 25 de abril, são totalizadoras e, portanto, incapazes de reconhecer as particularidades da difícil condição de pessoas não brancas, tais como o racismo institucional e o sentimento de não pertença (George, 2023; Wieser, 2022). A própria escritora, numa entrevista realizada por Doris Wieser em 2020 e recolhida numa edição da revista Portuguese Literary & Cultural Studies que foi publicada em março de 2024, ao falar do seu propósito de criação literária, acentuou a importância dessa vertente e a sua perpetuação na sociedade portuguesa contemporânea, afirmando o seguinte:
“Ou seja, o que queria mostrar no romance é que a reinserção dos angolanos negros, mestiços ou de famílias misturadas foi uma história diferente daquilo que era o retorno, porque aqueles que realmente se inseriram muito bem na sociedade portuguesa fizeram-no porque tinham vínculos na sociedade, ou porque tinham poder económico e até social. Houve uma parte esquecida, da qual não se falou e que continuou a ser uma presença na sociedade portuguesa e que se traduziu nas mulheres da limpeza, nas assistentes” (Gomes, 2024, p. 50).
O romance, portanto, apresenta um movimento transterritorializado das memórias de sujeitos díspares e em rumos divergentes, que António Sousa Ribeiro (2015) define como a “transnacionalização da memória”. De forma sintética, Ribeiro aponta para os efeitos causados quando as memórias pós-colonial viajam entre o Norte e o Sul Global:
“Os processos de deslocalização e de translocalização que constituem memórias diaspóricas acarretam consigo, inevitavelmente, a desestabilização dos quadros de referência e geram modos de turbulência que fazem com que os quadros de memória se transformem e ganhem dimensões de ambivalência crescentemente sujeitas a lógicas interculturais” (Ribeiro, 2015, p. 89).
Assim, acompanhando o deslocamento transnacional das memórias pós-colonial, o que agora espanta e abala os quadros de significações socioculturais dos ex-colonizadores é uma incerteza substancial, uma antítese intratável, uma voz perturbadora que emerge não de qualquer lugar, mas dos recantos insurgentes da macro-narrativa que os ex-colonizadores europeus construíram com base no colonialismo, racismo e sexismo, ou, por palavras de Ana Paula Tavares (2023), vem de “um processo ligado ao final do Império e a momentos de mudança e reelaboração das referências culturais” (Tavares, 2023, p. 10). Margarida Calafate Ribeiro (2016), no artigo intitulado “A Casa da Nave Europa — miragens ou projeções pós-coloniais?”, indica diretamente como essa memória pós-colonial não foi devidamente aceita e discutida na sociedade portuguesa ao longo das décadas:
“Resumindo, a memória — e, sobretudo, a memória de África — não parecia ser contemplada como um elemento essencial da construção da democracia. Pelo contrário, ela era permanentemente o seu elemento perturbador, pois nela tropeçávamos a cada passo, ora sob a forma dos ex-combatentes regressados, ora sob a forma de retornados de África, ora ainda sob a forma de complexas negociações diplomáticas que cada dia nos comprometiam com a rota europeia e nos desresponsabilizavam de África no âmbito do quadro geral da Guerra Fria em África” (Ribeiro, 2016, p. 30).
O romance de Aida Gomes, contudo, não apenas carrega o peso da memória transnacionalizada do pós-colonial, mas ainda vai muito além, no sentido identitário – pode integrar e até desafiar as exemplificações que a Margarida Calafate Ribeiro enumera. Neste sentido, a questão retórica da Belmira “somos angolanos, não somos?” (Gomes, 2023, p. 33) e a maldição do Silvério “Portugal, uma nação equivocada” (Gomes, 2023, p. 181) corroboram a perturbação e debilitação dos quadros de valores identitários e referências culturais, nomeadamente da narrativa da nação moderna numa sociedade europeia de descolonização. Daí, trata-se de uma realidade pós-colonial, pautada pela transnacionalização e até desnacionalização das memórias e identidades, que assenta precisamente no colapso da narrativa do Estado-nação, na dilaceração da mentira do Império e na necessidade de construir uma identidade mais complexa. Como disse anteriormente, isto deve-se exatamente à diversidade das identidades dos indivíduos retratados no livro — desde o homem ex-colonizador às crianças afrodescendentes, da mãe negra refugiada à mulher católica portuguesa — bem como às suas experiências e memórias, que transcendem a classificação simplista de população “retornada” e, obviamente, ultrapassam qualquer imaginação da comunidade nacional.
É, efetivamente, através da construção de uma narrativa polifónica que Aida Gomes demonstra cada dobra mnemónica, cada disparidade cultural e cada rutura identitária, permitindo que as memórias não sejam apenas relatadas, mas que cada indivíduo relate a sua própria memória. Ana Paula Tavares (2023), no prefácio da versão brasileira do romance, aponta para o carácter incontornável e autêntico da narrativa do romance, elogiando que ela “põe a nu a sua própria construção e exige um protocolo de leitura que ultrapasse os paradigmas críticos do saber literário” (Tavares, 2023, p. 10) e que, com isso, leva às vozes e ao leitor uma abundância de “consciência de duplas e tripas realidades” (Tavares, 2023, p. 12). Por conseguinte, a fim de decifrar as camadas multiplicadas de histórias, memórias e experiências, a narrativa do romance, que, pelos vistos, é caraterizada pela polifonia e emaranhamento, merece um olhar analítico devido.
Na sequência das considerações acima, o presente trabalho pretende interpretar a narrativa do romance de Aida Gomes numa perspetiva pós-colonial, abordando várias questões inerentes à obra, inclusive as contradições do discurso do Estado-nação na sociedade portuguesa contemporânea, as complexas relações entre narrativa, memória e linguagem, bem como a violência sexual contra mulheres racializadas no contexto pós-colonial, etc. São envolvidos vários teóricos e teóricas dos estudos pós-colonial, dos estudos da memória, dos estudos narrativos e dos estudos feministas, entre os quais destaco Homi Bhabha (2005), Pierre Nora (1993), Ruth Page (2006), Walter Benjamin (1987) e Paul Ricoeur (2012). Através da interligação de diversas instâncias da narrativa, este artigo tem como objetivo salientar os valores estéticos, sociológicos e historiográficos do romance e, dessa maneira, contribuir para visibilizar a literatura afrodiaspórica de língua portuguesa e para estimular mais reverberações sobre diversos temas recorrentes na discussão pública atual, que giram em torno do deslocamento, da imigração e da diáspora, bem como das histórias, narrativas e memórias relacionadas. As representações socioculturais diaspóricas contam com uma urgência de serem faladas, ouvidas e relocalizadas, particularmente as das comunidades que sofrem consequências históricas da colonização, entre as quais se distingue a comunidade afrodiaspórica.
UMA NARRATIVA DO ESTADO-NAÇÃO: OUTRAS VOZES, OUTROS TEMPOS
Na sua análise da formação da nação moderna ocidental, Homi Bhabha (2005) centra-se, de modo acutilante, no momento do deslocamento do povo. Segundo o teórico indiano-britânico, a partir de meados do século XIX, a expansão colonial no Oriente é acompanhada pela imigração massiva no Ocidente, direccionando esta trajectória essencialmente para a última fase do desenvolvimento da nação moderna ocidental (Bhabha, 2005, p. 199). No que diz respeito à vivência e experiência desse povo em deslocamento, a partir dessa população diaspórica e a sua cultura, Homi Bhabha propôs o conceito “localidade da cultura”, com objetivo de desconstruir a narrativa do Estado-nação ocidental:
“Essa localidade está mais em torno da temporalidade do que sobre a historicidade: uma forma de vida que é mais complexa que “comunidade”, mais simbólica que “sociedade”, mais conotativa que “país”, menos mitológica que patrie, mais retórica que a razão do Estado, mais mitológica que a ideologia, menos homogênea que a hegemonia, menos centrada que o cidadão, mais coletiva que “o sujeito”, mais psíquica do que a civilidade, mais híbrida na articulação de diferenças e identificações culturais do que pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica ou binária do antagonismo social.” (Bhabha, 2005, p. 199)
O contraste entre historicidade e temporalidade que Bhabha estabelece encontra ressonância na distinção que Pierre Nora (1993) traça entre história e memória, quando este afirma que em nenhum momento nos falta “o arrancar da memória sob o impulso conquistador e erradicador da história” (Nora, 1993, p. 8). Ambos os teóricos identificam uma disparidade fundamental entre história/historicidade e memória/temporalidade, contrapondo a homogeneidade hegemónica das primeiras à dinâmica vigorosa das segundas. Além disso, Bhabha evidencia a íntima relação entre historicidade e narrativa do Estado-nação, afirmando que “a equivalência linear entre evento e ideia, que o historicismo propõe, geralmente confere significado a um povo, uma nação ou uma cultura nacional enquanto categoria sociológica empírica ou entidade cultural holística” (Bhabha, 2005, p. 200). O teórico especifica ainda as manipulações do Estado-nação neste âmbito, através das quais, mediante o seu “poder simbólico” e “força narrativa e psicológica”, ele consegue fazer com que o próprio povo reproduza autogeracionalmente uma narrativa totalitária sobre a história.
Este processo de autogeração da narrativa do Estado-nação e do nacionalismo manifesta-se claramente na voz da Marcolina. Irmã do Silvério, a Marcolina é uma portuguesa católica fervorosa que nunca abandona Pousaflores ao longo da sua vida. Ao explicar à Ercília um conflito religioso entre os pousaflorenses e os habitantes do Rosmaninhal, a sua narração demonstra todas as características da historicidade referida por Bhabha:
“A confraria naquela altura decidiu deixar os do Rosmaninhal ficar com Ela, que mais santo menos santo o que nos vale é a nossa fé. Mas que nem pensem em roubar-nos S. Jorge, que nos arrancam o coração, quantas vezes Ele não nos salvou? Dos franceses em 1807. Vinham já os malvados a caminho e os habitantes de Pousaflores tinham só tachos e panelas para se defenderem. O medo era muito. Houve quem afogasse os filhos só para não caírem nas mãos assassinas dos tiranos. E não é que os franceses passaram ao largo e os nossos trisavós não foram degolados? S. Jorge desaferrolhou os portões do nevoeiro desde o Monte dos Mouros ao Monte do Cabeçudo e os franceses não viram a nossa aldeia. Já no Rosmaninhal a história foi outra, dizem que os sobreviventes se contavam pelos dedos das mãos”. (Gomes, 2023, p. 90)
O discurso da Marcolina representa, evidentemente, uma versão exemplar da narrativa do Estado-nação, na medida em que consolida e transmite uma versão da história oficializada para representar determinada comunidade, através da delimitação entre interior e exterior, da conjugação entre nacionalismo e provincianismo, e da rejeição de narrativas alternativas. Relativamente a este tipo de discurso nacionalista, Bhabha (2005) observa que a narrativa do Estado-nação procura construir uma “metaforicidade dos povos de comunidades imaginadas” (Bhabha, 2005, p. 201), através da qual, mediante técnicas retóricas, pedagógicas e performativas, o povo alcança uma subjetividade coletiva e voluntariamente integra essa narrativa nacionalista.
Outro discurso da Marcolina, quando manifesta um profundo ressentimento face ao regresso inesperado do irmão e à sua família de “pretos”, revela a essência do mecanismo de inclusão e exclusão no ato de imaginar o “nosso” povo ou a “nossa” nação:
“Não gosto de pretos. Saiu-me, está cá fora, até durmo melhor. Não gosto deles, pronto! O que é que queres que te faça? Agora que temos televisão farto-me de os ver. São muito bons no atletismo e nos futebóis, dançam e cantam que se fartam, pois a mim não me encantam. Não gosto deles e muito menos de mulatos, e vê lá a minha sina, tenhos-os em casa. Raça falsa, só a Ercília, coitada, é obdiente, saiu a mim. A gente aqui em Portugal não tem nada a ver com pretos. Perdermos as colónias foi a maior bênção que Deus nos deu. Eles que fiquem na terra deles, a gente fica na nossa, que aqui ao menos não é uma bandalheira como lá! E tu apareces-me aqui com três mulatos. No começo até tinha vergonha de sair à rua”. (Gomes, 2023, p. 160)
No entanto, o teórico pós-colonial indica subsequentemente que a narrativa do Estado-nação não é irrepreensível, mas sim ambivalente, visto que todo o seu mecanismo se fundamenta em metáforas, símbolos e narrativas. A sua retórica pode ser “apropriada” por outros, por aqueles que não se conformam com ela. Bhabha designa este efeito da ambivalência da narrativa da nação como “um deslizamento contínuo de categorias”, enumerando várias, como “sexualidade, afiliação de classe, paranoia territorial ou diferença cultural no ato de escrever a nação” (Bhabha, 2005, p. 200). Em relação à vertente inerentemente dissidente da narrativa nacionalista ambivalente, Homi Bhabha retoma o seu ponto de partida – o sujeito da história, o povo – para aprofundar essa antítese: existe, por um lado, o povo que já tem sido estabelecido no Ocidente, ao qual a narrativa do Estado-nação integra, consoante o seu princípio de inclusão e exclusão como necessário para a sua supremacia étnica e cultural; por outro lado, há ainda o povo em deslocamento proveniente de fora do Ocidente e, este último constitui outros que trazem outras histórias, outro contradiscurso, para corroborar e definir, à sua própria maneira, as narrativas de outras memórias e outros tempos. É precisamente neste contexto que emerge a temporalidade a que Bhabha se refere, representando uma forma alternativa de escrita que se situa fora da historicidade da nação — uma escrita genuinamente do povo.
“Se, em nossa teoria itinerante, estamos conscientes da metaforicidade dos povos das comunidades imaginadas — imigrantes ou metropolitanos — então veremos que o espaço do povo-nação moderno nunca é simplesmente horizontal. Seu movimento metafórico requer um tipo de “duplicidade” de escrita, uma temporalidade de representação que se move entre formações culturais e processos sociais sem uma lógica causal centrada. E tais movimentos culturais dispersam o tempo homogêneo, visual, da sociedade horizontal.” (Bhabha, 2005, p. 201)
No seu romance, Aida Gomes atribui esta temporalidade de escrita do povo aos protagonistas que se expressam através das vozes mnemónicas, concedendo particular destaque às vozes das crianças. Por meio de revelar a experiência infantil em toda a sua ingenuidade e crueldade, de forma contundente, a mentira da narrativa do Estado-nação torna-se cabalmente desmascarada. Existem dois momentos distintos no romance neste sentido. O primeiro ocorre quando a Belmira, ao tentar escrever uma carta para a sua mãe biológica Geraldina em Angola após a sua chegada inesperada a Portugal, menciona um elemento significativo da sua vida escolar no período pós 25 de Abril: “Cantamos uma canção: nós somos flores da revolução” (Gomes, 2023, p. 74). O segundo momento emerge através da memória da Ercília, que recorda o seu primeiro dia na escola portuguesa.
— Lá vêm elas! Lá vêm elas! As pretas da Guiné!
Foi no nosso primeiro dia de escola em Pousaflores. Acercávamo-nos dos muros baixos.
— Lá vêm elas, lá vêm elas!
De mão dada com a Belmira no caminho de alcatrão e pedras. No recreio da escola, o António, a Rita e o Manuel cantavam: Lá vêm elas! Lá vêm elas! As pretas da Guiné! (Gomes, 2023, p. 126)
Efetivamente, é com o intuito de construir, no mínimo, uma perspetiva comparada entre a narrativa de vitória e euforia do pós 25 de abril em Portugal e as circunstâncias racista e sexista em que o povo afrodiaspórico se encontra no país, que Aida Gomes pretende demonstrar a paradoxalidade da narrativa do Estado-nação que perpetua mesmo na época pós-revolução em Portugal. Mais especificamente, Aida Gomes procura, neste romance, fazer uma provocação direta à sociedade portuguesa contemporânea que se contenta com sua autorreflexão e autocrítica limitadas em relação ao passado colonial. Ela própria confirma assim, na entrevista referida:
Essa questão foi articulada de uma forma política, em termos ou de uma direita conservadora (que se fixou pela parte do saudosismo e de uma independência mal conseguida e mal organizada) ou de uma fação portuguesa progressista, esquerdista, que fez o 25 de Abril, que se sentiu jubilante e que também deu algum espaço a um bocadinho de autorreflexão sobre os que estavam do lado certo da História e os que não estavam do lado certo da História. E por aí se ficou. Penso que não houve um debate entre as duas partes. (…) Muito menos se falou, por exemplo, do significado do encontro entre as culturas e violência que foi a imposição de uma ordem colonial. (Gomes, 2024, p. 49)
Com efeito, a fim de desconstruir a narrativa do Estado-nação e de trazer à tona outras vozes e memórias, subjacentes ao processo traumatizante dos encontros e desencontros na diáspora pós-colonial, Aida Gomes adota uma narrativa polifónica. Esta narrativa assegura a essas vozes mnemónicas um espaço-tempo onde podem ser contadas e ouvidas de forma paralela e integral. Em síntese, esse espaço-tempo, concebido pela escritora, corresponde precisamente àquilo que Homi Bhabha designa por temporalidade. Mais ainda, o ato de criar uma narrativa literária tão heterogénea enquadra-se perfeitamente naquilo que o teórico do pós-colonial entende como a escrita do povo. Nas próximas seções do artigo, iremos discutir as particularidades da narrativa literária do romance, as suas reverberações nas características linguísticas, bem como a sua relação com as memórias traumáticas das personagens.
UMA NARRATIVA POLIFÓNICA DO ROMANCE: QUEM FALA?
Para além da forte vinculação entre narrativa, Estado-nação e memória, podemos ainda examinar no romance a questão da narrativa noutra dimensão: a literária. Walter Benjamin (1987) estabelece, relativamente ao narrador, duas categorias fundamentais — um grupo de narradores que desempenham o papel de viajante, imigrante, “marinheiro comerciante”, e que trazem consigo histórias de outros mundos; e outro grupo, o do “camponês sedentário”, que permanece na sua terra, exercendo a missão de transmitir o conhecimento de antigas histórias, lendas e tradições locais. Benjamin distingue ainda o que estes dois grupos narram: pela voz dos narradores viajantes, ouve-se o “saber das terras distantes”, enquanto os narradores da terra transmitem o “saber do passado” (Benjamin, 1987, p. 198-199).
A categorização do narrador e da narração proposta por Benjamin revela-se bastante profícua para abordar a literatura ocidental moderna em geral; contudo, as literaturas africanas e afrodiaspóricas do pós-colonial desafiam este padrão benjaminiano, podendo ser entendidas como uma extensão ou um acréscimo à área narratológica. Seguindo essa categorização benjaminiana das representações socioculturais do narrador e da sua enunciação, podemos identificar uma clara ambiguidade nas características dos diversos narradores no romance de Aida Gomes.
Por um lado, temos a Marcolina, uma narradora cuja vinculação à sua terra é profunda. A sua narração centra-se invariavelmente em Pousaflores, no seu pomar e flores, na procissão religiosa e no seu quotidiano atarefado; por outro lado, o Silvério representa aquele tipo de narrador-viajante que regressa de longe para a terra natal com inúmeras histórias para deslumbrar. Não consegue deixar de rememorar a sua experiência relacionada com África, desde a participação na operação militar colonial e o convívio com os mutileles, até à vida da figura colonialista Silva Porto. Na última fase da sua vida, o Silvério quase mergulha numa paranoia saudosista sobre África, ficando cabalmente isolado e alheio à sua realidade atual em Portugal.
No entanto, a memória que viaja de forma transnacional e transterritorial constitui a fonte fulcral que dá origem à complexidade da identificação e função dos narradores no romance. A Belmira, a Ercília, o Justino e a Deodata, quatro personagens-narradores que, sendo obrigados a deixar a sua própria terra e deslocar-se para outra, memorizam e narram constantemente tudo o que se liga à terra original. São outsiders imigratórios em Portugal que não conseguem desligar do seu passado e do conhecimento desenvolvido em Angola, envolvendo inúmeros fragmentos: pormenores do quotidiano, rituais tradicionais de nascimento e de luto, vestígios da língua materna, hábitos alimentares ancestrais, entre outros. Quando Deodata reencontra Silvério e os filhos em Portugal e constata o estado debilitado da saúde do marido, retoma de imediato os seus antigos hábitos de cuidar da família que havia desenvolvido em Angola:
“No pinhal e no ribeiro entre as pedras não encontrei burututu, erva que cura tudo, mas achei plantas parecidas com as que temos em Angola, erva-que-chora-sangue, erva-pimenta-de-sapo, flor-de-mil-olhos e raiz-serpente. Recolhi e pisei. Sem barro vermelho, misturei com barro verde de ribeiro.” (Gomes, 2023, p. 206)
Efetivamente, é neste sentido que as duas narrações definidas por Walter Benjamin podem ser examinadas de forma mais reflexiva: em vez de contrapor a narração sobre locais longínquos a uma outra relacionada com as terras de origem, ele antepõe a essa narração de outros espaços uma narração referente às histórias antigas, ou seja, uma narração de outros tempos. Embora Benjamin indique a possibilidade da combinação das duas narrações, a sua referencialidade permanece ainda na literatura ocidental. O autor afirma que a interpenetração entre a dimensão espacial da primeira narração e a temporal da segunda ocorre especialmente num “sistema corporativo medieval”, em que “o mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalham juntos na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro” (Benjamin, 1987, p. 199).
Contudo, ao examinarmos as quatro vozes afrodiaspóricas do romance de Aida Gomes, torna-se evidente que a narração de espaços distantes está ligada intimamente à narração de tempos passados, mas não no sentido de os narradores, após uma viagem aventureira, voltarem para a terra natal ou enraizarem-se no estrangeiro contando suas histórias de fixação. Se encaramos a incorporação das duas narrações e dos dois narradores, definida por Benjamin, como uma mudança identitária – o narrador viajante torna-se o narrador sedentário, e uma linearidade temporal – as viagens na juventude e a fixação na velhice, percebemos que a narrativa do romance de Aida Gomes não se enquadra no referente benjaminiano e que os narradores no romance de Aida Gomes escapam precisamente a esta categorização. O que eles sofrem não é uma mudança identitária, mas antes uma “loss of identity” (Kristeva, 1981, p. 14), como Julia Kristeva indica; também não é uma linha reta do tempo que conduz a vida deles, antes o peso da “forte bagagem da memória” (Nora, 1993, p. 8) que lhes projeta a descontinuidade do tempo. Para os narradores no romance de Aida Gomes, não há uma casa para voltar nem um destino estrangeiro para permanecer. Como Júlia Garraio analisa em relação à experiência e personalidade da Belmira – ela é forçada a separar-se da sua mãe biológica e depois a ser levada para Portugal, mas que não permanece aí e vai para Suíça – essa rutura identitária e temporal já começa na sua fase de infância, que depois vem reconfigurar a sua sensação de incerteza respeitante ao tempo e ao espaço: “Belmira experiences the process of adjusting to her father’s home in Angola as an expulsion from paradise, as the key rupture framing her life. The later flight to Portugal simply reinforces her sense of rootlessness” (Garraio, 2019, p. 1568).
Portanto, Aida Gomes demonstra-nos que a incorporação das narrações de outros locais e de tempos antigos pode e deve ocorrer, no contexto pós-colonial, numa nova sensibilidade espacial-temporal, resultantes das constantes consequências socioculturais e sociopsicológicas da história e violência da colonização, como a separação, a diáspora e a reintegração. Neste caso, esta nova sensibilidade, suscitada pelo movimento incessante de dores e traumas, de memórias variadas e de cicatrizes abertas de gerações afrodiaspóricas, exige, inevitavelmente, a vicissitude da narração, do narrador e da narrativa literária. Daí, partindo da evidência de uma das peculiaridades da narrativa do romance de Aida Gomes que não se encaixam no modelo ocidentalizado de categorizações narratológicas, iremos descobrir em que medida a compreensão em relação à questão das formas, nomeadamente o estilo de linguagem de cada personagem-narrador, poderá ser melhor articulada com o conteúdo e o contexto das narrações. Ou seja, porque é que a escritora faz estas escolhas narratológicas em vez de outras? Qual é o seu significado?
AS CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS DISTINTAS: COMO FALA?
Sendo polifónico, este romance desenvolve uma divergência de vozes e um dos seus aspetos divergentes ao qual prestamos atenção é o estilo de linguagem de cada personagem-narrador. Ao mergulhar inteiramente na memória dos seus momentos vividos lá em África, na conversa ilusória com o amigo português Manuel, colono branco também, que morreu durante a agitação social na época da independência em Angola, bem como na imaginação da vida do colonialista Silva Porto, o Silvério dirige sempre um discurso longo, articulado pelos diálogos concebidos, e repleto da deceção romantizada pela frustração do sonho colonial, da saudade direcionada à amizade masculina, e do desprezo por julgar mesquinha a vida quotidiana responsabilizada sempre pelas mulheres. Quando a Deodata se reúne com a família em Pousaflores e tenta convencer o marido de voltar para Angola, o Silvério manifesta com o Manuel, na sua cabeça, a sua insatisfação misógina, a sua fraternidade masculina e, pelas letras maiúsculas e minúsculas, a sua desvalorização pelo seu próprio país e língua numa mentalidade colonial de hierarquia dos poderes e estatutos:
A desorientação, compadre! Em vez de arrumar, desarrumou. Espalhou-me o recheio da arca na sala.
– Caramba, mulher, para onde pensas que vou? Em Portugal desenrasco-me!
– Desenrasca a toalha de mesa bordada, naperon e renda branca? Jogo completo, toalha de rosto, de bidé e de banho? Fronha e lençol bordado?
É o que lhe digo, compadre, um homem enfrenta a calamidades e as mulheres só pensam na merda dos bordados. A sua tendia mais para o rouge e o batom, não era? Perdi-a de vista nos tumultos de Luanda. Já Silva Porto, a braços com a debilidade feminina, enviou as filhas para Castelo de Neiva pelas bandas da Viana do Castelo, no norte de Portugal. Deu-lhes ordens expressas, façam-se à vida, aprendam a falar e a escrever o Francês e, na medida do possível, travem conhecimento com o Inglês. Não sei que destino tiveram. Não me admirava nada terem acabado nos bordados, sem nunca folhearem um livro, quanto mais não fosse em português. (Gomes, 2023, p. 200)
No entanto, pelas vozes das mulheres, sobretudo pelas vozes das duas meninas, percebemos que a narração delas é mais livre, composta por frases fragmentadas, e muito mais imagética do que discursiva. Como, por exemplo, a forma como a Ercília descreve o momento da sua partida no Heilongo: “No alcatrão, o som da roda do carro. O chiar do travão. Ao longo da vila, a farmácia, os armazéns e o restaurante. As sombras das árvores estenderam-se na estrada. A carrinha passou-lhes por cima” (Gomes, 2023, p. 24). Ou ainda podemos ler o início do romance onde a voz da Belmira conta o primeiro momento intratável da sua memória – a sua separação com a mãe biológica Geraldina, a partir de uma visão ainda infantil e ingénua, mas que já determina a sua trajetória dolorosa da vida diaspórica:
“Saltaram em torvelinho milhares de aranhas brancas num sapateado transparente. Uma névoa de fumo agitou a superfície da água. A mãe Geraldina vestia o seu melhor pano, o da vegetação em profusão. Agora o meu vestido era, como posso explicar? Naquele tempo não tinha palavras. Os bichos passavam, abelha, percevejo, mosquito, gafanhoto, tudo a voar (já ali está!), olhava, zonza de tanto ver, brincava na lama, gafanhoto, mosquito, mosca passava, abanava a cabeça daqui para lá e seguia o voo (já foi lá!). O chão de terra vermelha. Fazia cabelos de lama com os dedos. Espalhava nos braços e no próprio vestido. O que quero dizer é que esse vestido vinha desde há muito tempo. Custava a entrar na cabeça. Apertava no peito. Era curto na manga, mas era o meu único vestido de ocasião.
A mãe esfregou-me com ervas que crescem à beira do rio. Mergulhou-me na água, desatou o pano e enxugou-me dos arrepios de frio. Faltava ainda amanhecer. Tudo era orvalho e gotas no dia em que a mãe me entregou ao meu pai no Heilongo.” (Gomes, 2023, p. 19)
A narração, não apenas da Belmira, mas da Ercília e da Deodata também, no seu todo, demonstra uma “lembrança-imagem” (Ricoeur, 2012, p. 335) que é fortemente caraterizada pela embrião traumatizante, nas suas formas sensoriais, que antecede a lembrança (a narração analéptica e imagética, etc.) de um determinado acontecimento no passado (a separação materna, a violência sexual, etc.). Paul Ricoeur (2012), quando analisa a relação entre o passado, a marca do passado que é, sintetizando, a lembrança, e o testemunho, aponta para uma outra marca que, formada mesmo no testemunho, contém uma enorme emocionalidade que irá impactar a construção da memória do sujeito:
“Ora, o testemunho contém em sua raiz um enigma comparável. Antes de se expressar, a testemunha viu, ouviu, experimentou (ou acreditou ver, ouvir, experimentar, pouco importa). Em suma, ele foi afetado, talvez marcado, abalado, ferido, em todo caso, atingido, pelo acontecimento. O que ele transmite através de suas palavras é algo deste ser afetado por…; neste sentido, pode-se falar de marca do acontecimento anterior, anterior ao próprio testemunho, marca de certa forma transmitida pelo testemunho, o qual comporta uma face de passividade, de pathos, termo que se encontra na definição inicial da memória por Aristóteles.” (Ricoeur, 2012, p. 337)
Pelos vistos, as características linguísticas da narração do Silvério diferem muito das da narração da Belmira e, para melhor definirmos e analisarmos essas diferenças, iremos adotar as propostas metodológicas que Ruth Page (2006) levanta em torno da questão da relação entre géneros e narrativa para dar um contributo para a área da narratologia feminista pós-moderna.
No contexto sociocultural ocidental, Ruth Page categoriza o “male plot” como tendo uma narratividade forte e o “female plot” como tendo uma narratividade fraca (Page, 2006, p. 26). De acordo com ela, o “male plot” é marcado por uma certa “ambição” e uma sequência temporal bem delineada, cuja caraterização é “consistente and coherent, typically focused through a central protagonist who is usually male and expresses and achieves their desires” (Page, 2006, p. 26), enquanto as características estilísticas do “female plot” são opostas às do “male plot”, visto que “the features of the ‘female’ plot diverge from the well-known pattern, it may then also be perceived as lower in narrativity” (Page, 2006, p. 27).
Nesse sentido, podemos afirmar que a narração do Silvério é tipicamente um “male plot”, despida de qualquer confusão anacrónica e equipada com opiniões e ambição, seja quando fala da sua experiência na tropa colonial, seja quando comenta o seu convívio com os Mutileles, como, por exemplo, “Sobre a África existem duas visões, a primeira é de que é terra dos negros, a segunda é de que oferece uma bóia de salvação aos fracassos dos brancos. Proponho-lhe uma terceira visão” (Gomes, 2023, p. 255). Quanto às narrações da Belmira, da Ercília e da Deodata, pelos vistos, são todas contrárias à narração do Silvério e, assim sendo, podem pertencer ao “female plot”. Efetivamente, podemos identificar algumas características comuns entre elas próprias, como essa fluidez imagética e sensorial que já acontece com a fala da Belmira, citada acima, e que também existe na narração da Ercília, quando recorda os excertos da infância que ela e a Belmira passam juntas: “O céu cobre-se de traços de andorinhas, rasgões negros no espaço aberto. Cisnes pousados no meio do mar. Reflexos espelhados na água. Um luar cor-de-rosa. Um flamingo imóvel na areia da praia. Um guarda-sol gigante em forma de lua. Um auto-estrada imensa de estrelas” (Gomes, 2023, p. 305).
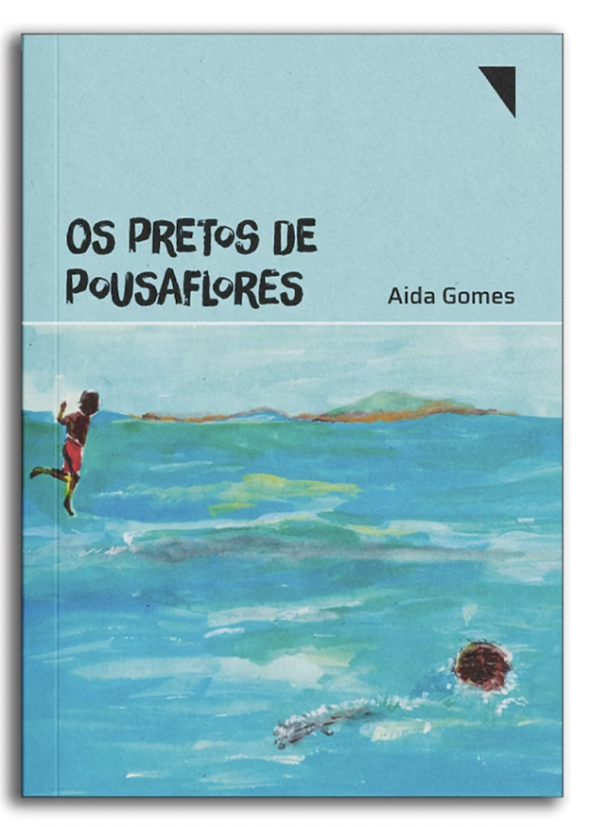
Contudo, ao dar alguns exemplos possíveis das características do “female plots”, como o anacronismo temporal e a estrutura narrativa descontínua, Ruth Page também nos chama atenção ao facto de que é demasiado limitado interpretar os fragmentos analépticos da memória de um enredo ou uma narrativa apenas como uma escolha feminina. É neste sentido que ela discorda, em partes, das teóricas feministas francesas sobre a “escrita feminina”, indicando que a descontinuidade temporal e a fragmentação descritiva podem ainda resultar de uma experiência traumatizada, independentemente dos géneros (Page, 2006, p. 34). Assim sendo, Ruth Page chega à seguinte conclusão, que também é profícua para a nossa análise sobre as narrações das diferentes personagens do romance de Aida Gomes:
“However, I have argued that a similarity in form should not lead to imposing a similar interpretation of the texts, particularly one which reduces those points of compatibility to a universal ‘female’ alternative. To do so does not acknowledge the potential variation in the experiences and narratives of different groups of women, and the relationship this might have with other significant factors such as historical context or race” (Page, 2006, p. 34).
Consequentemente, tendo por base essa análise relativamente às características linguísticas do romance de Aida Gomes, orientada pela perspetiva dos estudos pós-colonial e da narratologia feminista pós-moderna, iremos prosseguir com a investigação das suas particularidades narrativa-linguísticas, numa perspetiva fundamentada nas representações das mulheres racializadas numa sociedade pautada pela colonialidade (Mignolo, 2007, p. 449-453), como Ruth Page aconselha acima, com objetivo de abordar as formas como essas mulheres sofrem a subordinação, o abuso e a violência sexual.
UMA NARRATIVA DAS MEMÓRIAS TRAUMÁTICAS: A SUBORDINAÇÃO, O ABUSO E A VIOLÊNCIA SEXUAL
Como analisámos anteriormente, as características narrativas de cada personagem feminina, nomeadamente das mulheres racializadas que, neste caso, são a Belmira, a Ercília e a Deodata, resultam não apenas do facto de serem mulheres e se exprimirem de forma diferente dos homens, mas também estão profundamente enraizadas na sua experiência e memória traumática. Essas sombras traumáticas, enquanto consequências sociopsicológicas da história da colonização, por um lado, referem-se às lembranças da separação e partida forçadas, como já foi comprovado anteriormente; por outro lado, apontam para o abuso e a violência sexual contra as mulheres não brancas. Essas mulheres, tanto na sociedade angolana colonizada como na sociedade portuguesa pós-colonial, não são capazes de escapar ao sistema racista e sexista que visa reitificar os seus corpos.
No entanto, a experiência das mulheres racializadas de serem objetificadas, sexualizadas e violadas também não pode ser encarada como uma categoria homogeneizada ou, como Júlia Garraio (2019) nota, uma “metáfora unificada” do colonialismo (Garraio, 2019, p. 1573). É precisamente devido à heterogeneidade e à complexidade dessa experiência, tanto no sentido do contexto histórico como no sentido da sensação individual, que o estilo linguístico das suas narrações se torna diversificado, o que nos leva à possibilidade de vislumbrar novas perspetivas e leituras sobre os traumas violentos das mulheres, as suas formas de memorizar e as suas diferentes subjetividades.
A única vez em que a Belmira se recorda do abuso sexual que sofre na infância pelo amigo do pai, o Manuel, acontece no momento em que ela está completamente dececionada e desamparada por se sentir excluída e abandonada nas salas de aula. Começa a relembrar a vida em Angola, por “Não percebo de onde vem esta tristeza. No Heilongo fui quase feliz”, mas rapidamente passa a contar essa experiência de abuso, na perspetiva que é caracterizada pela sensibilidade fragmentada de ver e de tocar e que ela costuma usar ao abordar as memórias traumáticas, como a da sua separação materna:
“No escuro, caixas de rebuçados, chupa-chupas, cadernos, ratoeiras de arame, rolos de fita-cola, velas, panelas e pratos de alumínio. As mãos do senhor Manuel guiavam-me na escuridão, o chão frio de cimento magoava-me, a pele macia, a pele quente, a pele a arder, a pele fria.” (Gomes, 2023, p. 182)
A analepse e a fragmentação da narração da Belmira demonstram as características dos seus traumas psicológicos decorrentes do abuso sexual, enquanto são as repetições constantes do discurso direto que revelam o momento traumático cuja intensidade faz com que a Ercília não se consiga exprimir diretamente. Ela, após se encontrar grávida e feliz, é informada por todas as pessoas em Pousaflores, inclusive a tia Marcolina, a professora do liceu e o próprio rapaz branco português Mário que a viola, de que deve abortar o seu filho, porque um filho mestiço não é bem-vindo neste mundo:
“Que pensei em ir-me embora, se possível, para muito longe de Pousaflores. Que a enfermeira me fez esperar na marquise. Que abortar é simples e rápido. Que o problema era o feto, já tinha doze semanas. Que me senti aliviada porque esperançada. O pequeno tinha vida.” (Gomes, 2023, p. 276)
As redundâncias da expressão indireta representam a dissociação do ego freudiana (Zimerman, 2005, p. 130) da Ercília durante a experiência traumática. No caso da Deodata, ao mencionar a sua experiência de quase ter sido violada por um homem branco, quando viaja para Portugal e está alojada num centro de refugiados, o seu discurso, tranquilo e sem entrar em mais pormenores traumáticos, parece referir-se a um caso que não a perturbe, mostrando assim a sua disposição psicolinguística perante os traumas de violência sexual, muito diferente daquela das duas meninas, talvez pela sua subordinação ao homem branco que já tem sido implantada em Angola colonial: “Na cave, um lugar escuro, é onde lavo a roupa e posso chorar. Ontem, o senhor Azevedo Brocardo entrou sem avisar. Aproximou-se. Cheirava a vinho. Chegou perto demais. Queria aproveitar-se de eu ser uma mulher sozinha” (Gomes, 2023, p. 196).
No entanto, essas mulheres que passam pela sua própria experiência traumática de serem encaradas e maltratadas como presa fácil de sexo por homens brancos em diferentes períodos, demonstram, no final do romance, as suas insubmissões subjetivas, tanto nos pensamentos como nas práticas. Ou seja, as ideias sobre a sua condição, os seus sentimentos e a possibilidade de libertação subjetiva, suscitadas nas suas memórias traumáticas, começam agora a surgir na sua consciência ou, ao menos, na sua consciência subterrânea. A Ercília, depois de fugir para Lisboa sem conseguir ainda escapar ao aborto, regressa a casa em Pousaflores. No dia quando a Belmira telefona para casa informando que vai sair do país, a Ercília recorda a situação da abelha-rainha e das obreiras:
“Esta manhã estive fora com as abelhas. A rainha não queria sair da colmeia. Hoje às dez chegou-se à porta, mas recuou. Ao meio-dia espreitou de novo. Com as abelhas é assim. Voou nervosa uns poucos metros e, logo, no mínimo quinhentos e no máximo dez mil machos voaram atrás dela. Mas somente os mais fortes e ágeis a perseguiram. Os machos velhos sabem-se frágeis, o arrebatamento afrouxa com a idade. Esperaram por ela em voos lentos à volta da colmeia. Foi um macho novo a sobrevoá-la. Atirou-se pesadamente sobre ela e fecundou-a em queda livre. A rainha regressou à colmeia nauseada. Quando me fui embora, as obreiras rodeavam-na. Refrescaram-na no resto da tarde, mil asas em ventoinha.” (Gomes, 2023, p. 302-303)
A Ercília descreve uma cena desagradável em que a abelha-rainha se torna cabalmente um objeto de sexo e procriação de abelhas masculinas, ainda que a sociedade de abelhas seja matriarcal. Através dessa metonímia, a Ercília reconhece-se na abelha-rainha que “regressou à colmeia nauseada”. Contudo, a notificação da partida da Belmira implica ainda a perda absoluta de uma família de mulheres – como a interação entre a rainha e as obreiras – onde ela poderia ter sido curada com auxílio da irmã e da mãe. Ademais, na narração da Deodata adiante, ficamos a perceber que para resolver o problema, a Ercília “matava os machos e as abelhas foram todas embora” (Gomes, 2023, p. 319). A reflexão e a ação da Ercília implicam, digamos, a sua revolta e libertação da subjetividade no sentido metafórico. Quanto à Belmira, após se tornar prostituta em Lisboa durante uma época, finalmente decide deixar Portugal. Caminhando a pé desde a lagoa onde ela tem residido até à autoestrada, ela precisa de pedir uma boleia para o seu primeiro passo da partida. Então encontra-se com um camionista e, sem explicar muito, a Belmira utiliza o seu corpo, mais uma vez mas também pela última vez, para tirar proveito da boleia:
“Aproximo-me e sorrio, não vá ele mudar de ideias e desaparecer no asfalto da estrada que se perde na vista de entrecortados verdes dos eucaliptos.
Dedos maçudos pressionam primeiro ao de leve, agora firmemente as teclas de um piano ausente. Um cheiro distante de sabão. A cassete termina e o camião prossegue.” (Gomes, 2023, p.309)
Neste caso, a Belmira aproveita a sua condição de ser sexualizada e abusada enquanto mulher racializada para alcançar o que objetiva para a própria libertação. Precisamente nesta viagem com camionista, a Belmira, pela primeira vez, fala de como julga, não apenas o seu passado pessoal, mas ainda a memória coletiva de todos os jovens da sua geração nesta trajetória afrodiaspórica enquanto “bagagem do nosso pai”: “Não, a bagagem não tem como contar a sua própria história. A bagagem nunca se apodera da viagem” (Gomes, 2023, p. 310). Na sua escolha e manifestação em relação ao próprio corpo, ao seu passado e futuro, diríamos que a Belmira se apodera da sua subjetividade insubmissa.
Em síntese, a violência sexual perpetrada por homens brancos é uma realidade comum que todas essas mulheres racializadas enfrentam, quer em Angola quer em Portugal, e que acarreta consigo memórias traumáticas indeléveis. Embora sejam vitimadas pela “superioridade da masculinidade imperial” (Wieser, 2022, p. 158), devemos reconhecer as particularidades das formas de expressão dessas lembranças para identificarmos as individualidades das personagens e das suas histórias. Isso, de facto, também corresponde à intencionalidade da escritora. Aida Gomes, na entrevista, corrobora que se dedica à polifonia da narrativa e à linguagem das personagens, “porque eu queria que o leitor se apercebesse, ele ou ela própria, das contradições de cada uma das personagens” (Gomes, 2024, p. 51). É, com efeito, nesta medida, que podemos compreender melhor as diferentes formas expressivas dos traumas da Belmira, da Ercília e da Deodata, visto que a autora considera a Deodata “a personagem que melhor se adapta a Portugal, porque, talvez, como colonizada, também já interiorizou uma certa maneira de adaptação” e que as duas meninas, por outro lado, representam “aquele exotismo da mulher negra, mulata, supostamente sempre pronta para o sexo” (Gomes, 2024, p. 52-53).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O romance Os Pretos de Pousaflores de Aida Gomes demonstra, em conclusão, uma trajetória afrodiaspórica que conta com múltiplas facetas, seja a nível literário seja a nível socio histórico, e que, assim sendo, fornece diversas possibilidades de análise e interpretação. Podemos encontrar, por exemplo, versões contraditórias da narrativa sobre o Estado-nação e a história da África, que constituem uma forte tensão no romance entre o lado do colonialismo, nacionalismo e imperialismo e o lado da história da população africana em colonização, em diáspora e em reintegração. Porém, ainda nos resta uma vasta parte que pode ser estudada com mais profundidade, como a história do explorador colonialista Silva Porto e a sua ligação com o Silvério. Como a própria escritora refere, ela tenciona aprofundar a questão da permanente presença colonial de Portugal em Angola e, ao especificar a vida do Silva Porto, pode revelar o facto de que:
“Isso é uma parte do colonialismo. Depois, há outra parte que é a pacificação, porque a violência militar foi constante, ocorreu durante mais de quinhentos anos, desde que o Diogo Cão aportou em Angola. No século XX, na primeira metade, até à Segunda Guerra Mundial, houve guerras de pacificação. Portanto, não foi a Guerra Colonial ou a Guerra da Libertação que de repente explodiu uma confrontação militar. A intenção também foi mostrar isso.” (Gomes, 2024, p. 50)
Para além da questão da história colonial, a narrativa e a sua vinculação com a memória e trauma, tanto no período colonial quanto no pós-colonial, também persistem como um aspeto importante para a futura discussão e investigação. Como analisámos neste artigo, de facto, a narrativa polifónica do romance de Aida Gomes e a sua elaboração sofisticada da linguagem das personagens contribuem para refletirmos sobre uma determinada espécie de narrativa de grupos sociais mais vulnerabilizados, marginalizados e silenciados, como as mulheres, crianças e jovens das comunidades afrodiaspóricas. É com uma urgência de abrir suas feridas ainda frescas, de contar suas histórias ainda não ouvidas, e de relevar memórias ainda cobertas que as escritoras e escritores desse género estão a dedicar-se à sua obra literária, pelo que também devemos identificar uma enorme necessidade de desconstruir a formação desta trajetória tão complexa que exige sempre novas perspetivas e metodologias.
REFERÊNCIAS
BENJAMIN, Walter. O Narrador. Considerações obre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 197-221.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 222-235.
BHABHA, Homi. O Local da Cultura. Tradução: Myriam Ávila et al. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity. London; New York: Routledge, 1990.
CARDOSO, Bárbara Chaves. As múltiplas vozes do deslocamento . Palimpsesto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, [S. l.], v. 23, n. 45, p. 542–547, 2024. DOI: 10.12957/palimpsesto.2024.80688. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/palimpsesto/article/view/80688. Acesso em: 25 fev. 2025.
GARRAIO, Júlia. Framing Sexual Violence in Portuguese Colonialism: On Some Practices of Contemporary Cultural Representation and Remembrance. Violence Against Women, California, v. 25, n. 13, p. 1558-1577, 2019. DOI: 10.1177/1077801219869547. Acesso em: 25 fev. 2025.
GEORGE, João Pedro. O Império às Costas: Retornados, racismo e pós-colonialismo. Lisboa: Editora Estampa, 1986, 2Vols.
GOMES, Aida. Os Pretos de Pousaflores. 1. ed. São Paulo: Editora Funilaria, 2023.
GOMES, Aida. “A palavra nómada”. Entrevista a Aida Gomes. Portuguese Literary & Cultural Studies (PLCS), North Dartmouth, Massachusetts, v. 40/41, 28 mar. 2024. P. 41-53. Entrevista concedida a Doris Wieser.
IRIGARAY, Luce. This Sex Which Is Not One. Ithaca: Cornell University Press, 1985.
KRISTEVA, Julia. Women’s Time. Tradução: Alice Jardine; Harry Blake. Signs: Journal of Women in Culture and Society, Chicago, v. 7, n. 1, p. 13-35, 1981.
MIGNOLO, Walter. Delinking. The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. Cultural Studies, London, v. 21, n. 2, p. 449–514, 2007.
NORA, Pierre. Entre Memória e História. A problemática de lugares. Tradução: Yara Aun Khoury. Projeto História, São Paulo, v. 10, p. 7-28, dez. 1993.
PAGE, Ruth. Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
RIBEIRO, António Sousa. Memória. In: ROSSA, Walter; RIBEIRO, Margarida (org.). Patrimónios de Influência Portuguesa: Modos de olhar. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015, p. 81-94.
RIBEIRO, Margarida Calafate. A Casa da Nave Europa – miragens ou projeções pós-coloniais?. In: RIBEIRO, António; RIBEIRO, Margarida (org.). Geometrias da Memória: Configurações pós-coloniais. Porto: Edições Afrontamento, 2016, p. 15-42.
RICOEUR, Paulo. A marca do passado. Tradução: Breno Mendes et al. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 10, p. 329-349, dez. 2012.
TAVARES, Ana Paula. Prefácio, por Ana Paula Tavares. In: GOMES, Aida. Os Pretos de Pousaflores. São Paulo: Editora Funilaria, 2023, p. 8-13.
WIESER, Doris. The Frizzy Hair of the Retornados: “Race” and gender in literature on mixed-race identities in Portugal. In: PERALTA Elsa (ed.). The Retornados from the Portuguese Colonies in Africa. Memory, Narrative, and History. London; New York: Routledge, 2022, p. 150-170.
WITTIG, Monique. The Straight Mind and Other Essays. Boston: Beacon Press, 1992.
ZIMERMAN, David. Psicanálise em Perguntas e Respostas – Verdades, Mitos e Tabus. Porto Alegre: Editora Artmed, 2005.